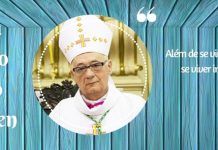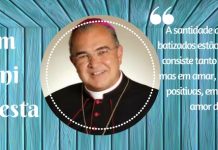A Quaresma neste ano em nosso país coloca-nos diante de uma reflexão importante, que é Igreja e Sociedade. Sabemos que a grande tônica é a questão social e a nossa presença diante de um mundo injusto e violento. Porém, seria importante alargar um pouco o horizonte e ir também para o mundo cultural. Como dialogar com um mundo em mudança e sem valores transcendentais, perenes e comuns? Em tempos de relativismos e em que tudo é questionado, somos chamados a encontrar caminhos para dialogar com essa sociedade.
No número 57 da Constituição Dogmática Gaudium et Spes, que se propõe a reflexão sobre a relação entre fé e cultura, é afirmado que por meio da ciência “o homem pode contribuir em alta medida para que a família humana se eleve às noções mais nobres do verdadeiro, do bom e do belo e a um juízo de valor do universo, e seja mais claramente iluminado pela Sabedoria admirável, que estava junto de Deus desde toda a eternidade” .
Tendo como referência essa afirmação, faz-se necessário reconhecer a intenção do Concílio Vaticano II em realçar o fato de que o caráter da investigação científica reside em identificar a verdade e, a partir de então, ordenar e auxiliar os homens na construção de si mesmo e da sociedade em vista da realização do fim último da própria natureza humana, a saber: Deus .
Contudo, não raras vezes na história do pensamento, verificou-se a existência de concepções e correntes filosóficas que admitem que a função e a natureza da ciência não estão vinculadas à tarefa de identificar valores e realidades objetivas que venham a servir de parâmetro para a edificação do homem e da sociedade humana. Inclusive, para grande parte desses movimentos, a verdade não passa de uma construção histórica, não podendo ser definida como uma dimensão universal capaz de compreender todo o gênero humano. A função da investigação científica se afasta da pretensão de indicar uma linearidade permanente que define o que existe, passando somente a entender a noção de verdade enquanto um produto histórico, que, por sua vez, está atrelado a um conjunto de regras de aparecimento, organização e transformação inerentes ao processo histórico. Em outros termos, de modo mais exato, a verdade e, consequentemente, os valores a ela subjugados seriam reduzidos a uma questão de perspectiva, ou melhor, a um perspectivismo. Dessa forma, o perspectivismo parte da posição na qual não existe um enunciado universal (verdade), mas que os mesmos enunciados ou valores que constituem a sociedade subsistem, mudam e desaparecem, dando lugar a novos requisitos responsáveis por apontar novos parâmetros que sejam capazes de orientar eticamente, politicamente e culturalmente a sociedade em sua totalidade.
Uma das consequências mais imediatas imposta pelo perspectivismo é o relativismo cultural. Nesse tipo de relativismo é possível verificar a posição que afirma que em cada e qualquer cultura há um sistema fechado, capaz de determinar os mais variados aspectos da vida humana de modo incomensurável. Dessa forma, os valores de uma cultura são considerados tão válidos quanto os valores de uma outra cultura qualquer. Nomeadamente, a consequência mais direta de tal posição é aquela na qual é legítimo avaliar as práticas comportamentais somente se estas se dão exclusivamente no âmbito de uma determinada cultura, pois, sendo a própria cultura um sistema fechado, não é admitida a existência de valores absolutos capazes de perpassarem as demais formas de cultura de modo objetivo e permanente. Assim, objetivamente, o código ético não tem como fulcro uma dimensão universal, mas é fruto e produto de conjecturas de conveniência.
No que concerne à convenção como produtora dos valores, é possível afirmar que o que está em jogo é o modo como as relações de poder estabelecem os valores que constituirão o código ético de uma sociedade, acabando por também produzir determinado tipo de sujeito. Nesse sentido, o poder surge como uma das dimensões responsáveis por construir aquilo que pode ser chamado como formas de eu, isto é, as formas de compreensão que o sujeito cria sobre si mesmo, e as práticas através das quais ele mesmo transforma o seu modo de ser no mundo. Sendo assim, por exemplo, é possível considerar a disciplina imposta pelas relações de poder como um instrumento responsável por construir certo tipo de parâmetro racional e moral capaz de formar o indivíduo e as formas de conhecimento. Portanto, o grande problema reside no fato de considerar o conhecimento não como uma realidade capaz de legitimar e afirmar valores incondicionais inerentes à natureza humana, mas tão somente como um instrumento de dominação necessário para modelar uma noção de homem segundo padrões de conveniência e interesse.
Com isso, e aqui está um ponto central da atual preocupação, desconsiderando uma base objetiva e permanente capaz de explicar o homem e o seu agir, a natureza humana passa a ser explicada por dispositivos de interesses que tem a sua razão de ser na perspectiva de quem detém o poder.
Consequentemente, sendo as relações de poder caracterizadas também pelo perspectivismo, não é raro perceber que elas fluem. Em outras palavras, partindo do princípio aceito hodiernamente, no qual o sujeito é produzido por tais relações inconstantes de poder, excluindo-se uma dimensão universal capaz de explicar a natureza humana, é possível verificar uma profunda crise acerca da compreensão do próprio homem na atualidade, isto é, o homem enquanto uma realidade de identidade fragmentada.
Não estando alheia a todo esse panorama pluralista imposto pelo relativismo, a Igreja, que cresce visivelmente no mundo , é chamada a um diálogo com essa realidade, tendo em vista a vocação dada pelo Senhor aos seus discípulos de serem “sal da terra e luz do mundo” . Por isso, de modo particular, a Campanha da Fraternidade de 2015, recordando os cinquenta anos do Concílio Vaticano II, propõe uma reflexão sobre a necessidade do constante diálogo da Igreja com a sociedade, tendo em vista oferecer, em meio a todo esse contexto pluralista, uma resposta capaz de “aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da cultura da paz, do espírito e do diálogo inter-religioso e intercultural, para superar as relações desumanas e violentas” .
Dentre algumas atitudes essenciais para que esse diálogo entre Igreja e sociedade possa ser frutuoso, é necessário que se reconheça a verdadeira natureza do que vem a ser o diálogo, isto é, interação, intercâmbio e reciprocidade. Cabe aos partícipes da sociedade, a Igreja entre eles, certa atitude de abertura à alteridade. Ou seja, uma atenção especial voltada para o outro, como maneira de viver o fortalecimento das relações por meio da partilha e do bem comum.
Entretanto, surgem dúvidas a respeito do modo como se deve dar este diálogo. Desconsiderar que a Igreja tem algo a dizer ao homem de hoje seria recair na mesma rigidez à qual o perspectivismo tanto se opõe. Temos, com isso, um ponto de partida, a saber: a oportunidade que cabe à Igreja de ser uma voz em meio a tantas vozes presentes no pluralismo que caracteriza a sociedade. Em um mundo cada vez mais configurado pela ausência de um sentido objetivo, fechado à possibilidade de uma verdade pronta, a Igreja, enquanto voz, deve dirigir uma palavra de criatividade. Assim, o perspectivismo, enquanto tomado como um modelo de vida, não se apresenta, em última instância, como um adversário, mas como uma oportunidade para a Igreja viver a sua própria identidade de anunciadora de um Reino que já se faz presente na pessoa de Jesus Cristo, mas caminha para uma realização plena, que se dará com a segunda vinda do Filho de Deus. Em outras palavras, a não crença em um parâmetro objetivo capaz de explicar o homem e o mundo não é considerada pela Igreja como algo fechado em si, mas como uma possibilidade de “abertura ao Ser concebido como presença e, ao mesmo tempo, como entrega de forma criativa e permanente, portanto, como mistério que guarda uma reserva de sentido, condição de possibilidade de reinterpretações sempre novas” .
É justamente através dessa reserva de sentido que a Igreja pode dialogar com o mundo perspectivista de hoje. Nesse mundo marcado por tantas “visões”, que acabam por reduzir o homem a um mero objeto que pode ser considerado a partir de vários interesses, no qual a vida passa a ser um apêndice em vez de ocupar o posto primordial das preocupações políticas e pessoais, a reserva de sentido que a Igreja pode oferecer é o anúncio da primazia da dignidade humana.
O discurso sobre a dignidade humana é fundamental, pois a ele é atrelado o tema da responsabilidade. Todavia, em um mundo que despreza a normatividade, surge a dificuldade de como fundamentar o discurso sobre a dignidade humana e, consequentemente, sobre a responsabilidade. Porém, assim mesmo, e esse também é um outro ponto importante de nossa reflexão, é possível observar a preponderância e a exigência acerca de uma profunda reconsideração e vivência desses temas nos dias atuais.
A história é capaz de mostrar o quão decisivo foi o papel do cristianismo para a construção da identidade ocidental. Notadamente, a mensagem cristã traz consigo dois elementos que caracterizam a sua própria razão de ser, a saber: a Kénosis, isto é, o esvaziamento do próprio Deus ao se encarnar e assumir a natureza humana e a Cáritas, que é entendida como a caridade, consequência direta do gesto de humildade do Deus que se esvaziou em favor do gênero humano. Assim, é possível perceber, malgrado os conflitos que afligiram a história, que “a cultura ocidental secularizada só se pode compreender como herdeira do cristianismo, mais precisamente do esvaziamento de Deus ou da Cáritas vivida como encontro amoroso com o outro” .
Posto isso, é possível concluir que o diálogo da Igreja com o perspectivismo e o mundo plural de hoje deve ser construído a partir do reconhecimento daquilo que há de comum para que a vida humana seja preservada, e, sem sombra de dúvidas, como exposto acima, o cristianismo oferece fortes elementos para tal tarefa. Todas as vezes que a abertura ao outro cede lugar a interesses que se colocam acima da responsabilidade para com a dignidade humana, observa-se a falta de ordem, fazendo com que o mundo não seja a casa comum, mas lugar da intolerância, do desrespeito e da indiferença. Assim, o tema da abertura ao outro “parece ir de encontro ao primado da caridade enquanto possuidora de certa relatividade, porque o amor é sempre movimento em constante atualização. De outra forma, já que não se pode contentar com as verdades absolutas, o caminho é o diálogo como forma de construção daquilo que, juntos, é possível considerar como verdadeiro” .
Creio que com isso se abre uma bela discussão, que deve nos conduzir a um importante aprofundamento. Em tempos tão difíceis como os nossos, junto com os trabalhos sociais, políticos e culturais, acredito que refletir filosoficamente sobre as bases em que se assentam muitas declarações e decisões podem nos aclarar sobre as questões de fundo que hoje debatemos. Porém, sabemos também que essas ideias são plantadas há séculos, e a vida cristã, mesmo assim, tem sido uma luz em meio a tantas escuridões, mesmo disfarçadas de “luz”. Como encontrar aquilo que realmente é bom para a vida hoje em tempos tão relativistas? Temos um longo caminho a percorrer diante de tantas situações, e na busca de nos “colocar a serviço”, também ajudar a nossa sociedade a não perder a sua “humanidade”, e assim colocar-se a caminho de tempos onde a dignidade humana e a solidariedade façam parte dos valores universais. Que o tema da Campanha da Fraternidade 2015 nos desperte para continuar essa reflexão para o presente e futuro de nosso país.
BIBLIOGRAFIA
BÍBLIA DE JERUSALÉM, São Paulo 2002.
CNBB, Campanha da Fraternidade 2015: Texto – Base, Brasília 2015.
COMPÊNDIO DO VATICANO II: Constituições – Decretos – Declarações, Petrópolis 1968.
FERREIRA, V.P., «O cristianismo na pós-modernidade: considerações hermenêuticas filosóficas», in Atualização XLII/356 (2012), pp. 229-248.