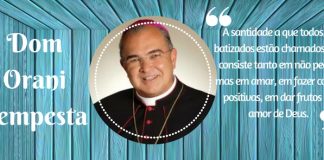A primeira edificação portuguesa em terras tupiniquins foi uma cruz. Uma cruz e um altar. Aqui aportaram num vinte e dois de abril. Num primeiro de maio, que ainda ignorava os dramas de nossos trabalhadores, celebraram entre os indígenas a primeira missa. Neste continente ainda por se revelar em suas riquezas, mistérios, belezas e grandiosidade, os portugueses foram se achegando, com mimos e gentilezas, comprando a confiança de seus habitantes. Como quem nada quer, celebraram com os nativos, deixando plantada em solo virgem uma cruz, um estranho estandarte de uma fé incompreensível para nossos índios, mas que a história futura revelar-lhes-ia em toda sua intensidade, tanto profética, quanto redentora. Ali começava a via crucis desse povo. Mas ninguém se deu conta do simbolismo desse momento.
Quinhentos anos depois, ali estava eu. Em férias, é verdade, mas curioso por conhecer aqueles logradouros históricos de Porto Seguro e arredores, visto estarmos em plena celebração do quinto centenário de nossa nação “brasilis”, a terra da madeira vermelha como fogo, o pau que não ardia, mas queimou como “brasa” as mãos de muitos indígenas e trabalhadores escravos, para fazer o escambo da preciosa madeira, símbolo do olhar ávido do velho mundo sobre as riquezas desse novo mundo. Caminhando pela orla da Coroa Vermelha, numa manhã luminosa de abril de 2000, vi ao longe a silhueta da cruz redentora – não a original, mas outra bem mais simbólica, talhada sobre madeira bruta pelos indígenas remanescentes da primeira missa… Como amavam aquele símbolo! Digo isso não pela massacre que aquele “Descobrimento” proporcionou a seu povo – isto seria contraditório – mas pela maneira com que aprenderam a aceitar aquele símbolo em suas vidas, a depositar a seus pés toda angústia da opressão que sofreram, a colher de seus braços um novo sentido de vida, bem mais amplo e reconfortante do que as espoliações que sofriam. Tinham na sombra daquela cruz o amparo mínimo de que necessitavam para sobreviver. Nela encontram conforto, forças e esperanças renovadas. A cruz ali plantada tornou-se refrigério para suas almas. Aprenderam a amá-la.
Estava chegando ao local histórico. Ainda ao longe, vejo um trator e um caminhão também se aproximando daquela cruz. Eram 07h00min. Estranhei aquele movimento na aurora de um dia cheio de luz. Mas os operários que ali estão, vieram determinados a um serviço rápido e eficiente. Com guinchos mecânicos e cordas grossas, em minutos, arrancam do solo a velha cruz de madeira, colocam-na sobre a carroceria do caminhão e saem a toda, tomando rumo desconhecido. Quando chego ao local, os indígenas estão alvoroçados. Correm de um lado a outro, noticiando a tragédia: “Roubaram nossa cruz; os brancos levaram nossa cruz”! Em minutos, toda aldeia está desperta e, os mais afoitos, munem-se de seus apetrechos de guerra, lanças, machadinhas, foices, e saem em disparada ao encontro da cruz roubada.
Tudo isso aconteceu bem à minha frente. Tudo para enaltecer e dar destaque à nova cruz de aço, erguida bem ao centro da praça recém-construída, que seria o marco dos nossos 500 anos. Quinhentos anos de abuso e exploração, de mando e desmando, de velhos e novos caciques, eleitos ou aclamados pela tribo dos brancos e pela tradição dos indígenas. Voltei ao local no ano passado. A cruz de metal lá está, enferrujada, abandonada, cercada pelo comércio de bugigangas e souvenires que a nossa cultura consome avidamente. Mas, ao fundo, bem num cantinho do outrora paradisíaco cenário da primeira missa, ainda pude ver, esbelta, portentosa, brilhando ao sol de um novo dia, a velha e tosca cruz de madeira do povo indígena. Então dei graças, pois nosso Brasil ainda é a Terra da Santa Cruz.